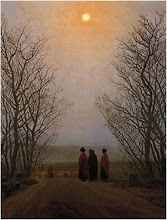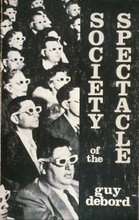Entrevista especial com Alicia Stolkiner
“É um mito contemporâneo o de que uma pílula mágica soluciona tudo”, aponta com severidade a professora de Saúde Pública da Universidade de Buenos Aires. Alicia Stolkiner tem acompanhado a evolução da nova gripe a partir do contexto econômico, político e social em que ela está inserida e, assim, afirma que “esse vírus tem atuado como um fator para análise de uma série de funcionalidades sociais e de estados dos sistemas de saúde frente a uma emergência, obrigando a revisar algumas situações e pondo outras a prova”. Assim, nesta entrevista que concedeu à IHU On-Line, por e-mail, Alicia aponta quais são, em sua opinião, os maiores mitos que se criou em torno da disseminação do vírus H1N1 e analisa a atuação dos grandes laboratórios farmacêuticos diante desta “emergência” mundial.
Alicia Stolkiner é psicanalista e doutora em Saúde Pública. Hoje, é professora na UBA. Na Argentina, é representante da Rede de Pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Conesul.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – A gripe pode se tornar uma pandemia como se tornou a gripe espanhola no início do século XX?
Alicia Stolkiner – O comportamento desse vírus, até o momento, não evidencia isso. Ele tem se propagado em forma de pandemia em relação à mortalidade, por uma série de circunstâncias, mas de maneira muito menor. As epidemias são fenômenos biosocioculturais. Todas devem ser compreendidas no contexto econômico, político e social em que ocorrem. A gripe espanhola deixou dezenas de mortos num momento e contexto totalmente diferentes.
IHU On-Line – Quais são os maiores mitos em torno da gripe A (H1N1)?
Alicia Stolkiner – Em primeiro lugar, como qualquer epidemia, o primeiro mito é que o desconhecido é mais perigoso, acontece, então, que as pessoas se protegem dos estranhos e têm poucos cuidados com aqueles mais próximos. O segundo mito, pelo menos na Argentina, é que a cura depende fundamentalmente de um medicamento e da prevenção através de vacina. Os processos de saúde-enfermidades-atenção são complexos, esquecem que a principal estratégia da defesa é a cura do corpo a partir do sistema imunitário. Este, por sua vez, depende de fatores que não são somente biológicos. É influenciado por variáveis que vão desde a alimentação e o repouso, até o estado de ânimo e o stress ligado às condições de vida. Então, para curar-se é necessário valorizar as tecnologias tradicionais leves: repousar, manter-se num ambiente estável etc. Isso também indica vulnerabilidades ligadas às condições de vida, não só as dos setores da população que não têm direitos básicos (alimento, abrigo etc.) garantidos, como também as daquelas pessoas submetidas a subemprego, condições de contratação precária que impedem de faltar ao trabalho ainda que estejam doentes etc.
É um mito contemporâneo o de que uma pílula mágica soluciona tudo. Com esta gripe, vamos ter que valorizar os cuidados no sentido mais amplo. Não se trata de tomar pílulas e seguir como se estivesse tudo tranquilo. É preciso favorecer e potencializar os fatores protetores e de luta contra a doença em que o corpo e a pessoa têm.
Em algum artigo apontei, inclusive, o risco que significam as dietas hipocalóricas a que se submetem muitas jovens por razões estéticas, vulnerabilizando-se às doenças. Finalmente, acredito que tem acontecido um excessivo alarme levando em conta sua baixa taxa de letalidade. Mais do que mitos, poderíamos falar de uma cultura hegemônica que tende a negar a morte e o risco, naturalizando alguns, inclusive. De toda forma, é mais interessante apontar que esse vírus tem atuado como um fator para análise de uma série de funcionalidades sociais e de estados dos sistemas de saúde frente a uma emergência, obrigando a revisar algumas situações e pondo outras à prova.
IHU On-Line – Em sua opinião, como os grandes laboratórios farmacêuticos estão atuando durante esta “crise da gripe”?
Alicia Stolkiner – Estima-se que para se manter no mercado mundial, os laboratórios devem lançar anualmente dois ou três produtos capazes de alcançar um milhão de dólares nas vendas. Isso significa que os medicamentos devem avançar criando mercados. Para isso, aprofundam-se dois processos culturais: o da medicalização da vida cotidiana e o da geração da certeza de que todo problema de saúde (e, às vezes, todo e qualquer problema) encontra uma resposta em um produto médico-farmacêutico-tecnólogico.
Antes da epidemia em si, as propagandas de medicamentos destinados a aliviar os sintomas de gripe ou resfriado, a fim de se manter em atividade, favorecerão condutas que logo, durante a epidemia, agravarão a situação. Isto ocorrerá por dois motivos: porque as pessoas só consultarão um médico em casos mais avançados e graves; e porque, ao não manterem-se em repouso, contribuirão para a disseminação de doenças. Deveríamos ter uma maior regulação sobre as propagandas de medicamentos de venda livre ou sobre as propagandas de medicamentos em produtos alimentícios, pois são potencialmente danosos para a saúde.
Também estão em jogo os interesses de produção de uma vacina que seria para todo o mundo (um "A pergunta que está por trás de tudo isso é se a lógica de mercado pode reger a vida dos habitantes do planeta"
negócio incrível) e o famoso Tamiflu, que tem uma curiosa história com o caso da chamada gripe aviária. A pergunta que está por trás de tudo isso é se a lógica de mercado pode reger a vida dos habitantes do planeta.
IHU On-Line – Você pode analisar a evolução viral do H1N1?
Alicia Stolkiner – Aparentemente sua mutação e origem estão ligadas às formas atuais de produção intensiva de alimentos, neste caso de carne de porco. Sua propagação rápida no mundo é uma mostra da interconexão inevitável da atual fase de desenvolvimento.
IHU On-Line – Qual sua opinião sobre a forma como esta gripe está sendo noticiada?
Alicia Stolkiner – Acredito que os meios trataram, em geral, mal o tema. Eles responderam de maneira alarmista e com escassa informação útil. Um colega, Federico Tobar, escreveu recentemente: “parece que mitigar o vírus poderia resultar tão difícil quanto o rumor”. É notável que as mortes são permanentemente ressaltadas, mostraram corpos sem vida, mas – com algumas exceções – teve escassa informação destinada aos cuidados coletivos que se deve ter. Todas as mensagens eram destinadas ao cuidado individual pela medida fundamental de não tocar outras pessoas e lavar bem as mãos. Poucas mensagens propiciaram o “cuidar o outro”, para pensar práticas sociais compartilhadas.
IHU On-Line – Existe um plano na Argentina para combater a gripe A?
Alicia Stolkiner – O sistema de saúde argentino é altamente fragmentado e segmentado. O Ministério da Saúde tem de pouca a nula ingerência sobre as decisões que tomam os governos provinciais ou municipais, dos quais dependem os serviços de saúde. Uma parte da população é atendida no sistema de Obras Sociais e a outra pelo sistema privado. Este último notifica mal as informações de atendimentos. Também a epidemia chegou num momento em que a gestão nacional estava debilitada por um processo eleitoral onde houve a mudança do ministro. A concretização de uma política unificada recém começou a olhar para o fim da epidemia. Acredito que a resposta foi tardia, mas isso é um produto das características do sistema.
Finalmente, optou-se pela suspensão de classes e atividades, mas isso não foi acompanhado, por exemplo, pela suspensão de algumas partidas de futebol importantes em que houve grande concentração de pessoas. A suspensão das aulas teve um efeito inesperado, não sobre a gripe, mas em relação à bronquite que, pela primeira vez em anos, parece não ter chegado ao pico epidêmico no inverno.
IHU On-Line – Este vírus é mais violento? Como podemos explicar a morte de jovens por causa desta gripe?
Alicia Stolkiner – As cifras atuais na Argentina estão indicando que a maior mortalidade não foi em jovens, mas sim na população de 45 a 59 anos. Efetivamente, o vírus atacou aos jovens e, assim, diferenciou-se da gripe estacional que assola fundamentalmente as crianças e os idosos. Também morreram jovens e alguns deles não estavam nos grupos de risco. Acredito que a mortalidade da população jovem e sã pode ter sido incrementada pela prática de amenizar os sintomas e seguir em atividade até que a enfermidade avance. Muitas das consultas se realizaram quando a pessoa já tinha pneumonia bilateral, que foi a principal causa de morte.
“É um mito contemporâneo o de que uma pílula mágica soluciona tudo”, aponta com severidade a professora de Saúde Pública da Universidade de Buenos Aires. Alicia Stolkiner tem acompanhado a evolução da nova gripe a partir do contexto econômico, político e social em que ela está inserida e, assim, afirma que “esse vírus tem atuado como um fator para análise de uma série de funcionalidades sociais e de estados dos sistemas de saúde frente a uma emergência, obrigando a revisar algumas situações e pondo outras a prova”. Assim, nesta entrevista que concedeu à IHU On-Line, por e-mail, Alicia aponta quais são, em sua opinião, os maiores mitos que se criou em torno da disseminação do vírus H1N1 e analisa a atuação dos grandes laboratórios farmacêuticos diante desta “emergência” mundial.
Alicia Stolkiner é psicanalista e doutora em Saúde Pública. Hoje, é professora na UBA. Na Argentina, é representante da Rede de Pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Conesul.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – A gripe pode se tornar uma pandemia como se tornou a gripe espanhola no início do século XX?
Alicia Stolkiner – O comportamento desse vírus, até o momento, não evidencia isso. Ele tem se propagado em forma de pandemia em relação à mortalidade, por uma série de circunstâncias, mas de maneira muito menor. As epidemias são fenômenos biosocioculturais. Todas devem ser compreendidas no contexto econômico, político e social em que ocorrem. A gripe espanhola deixou dezenas de mortos num momento e contexto totalmente diferentes.
IHU On-Line – Quais são os maiores mitos em torno da gripe A (H1N1)?
Alicia Stolkiner – Em primeiro lugar, como qualquer epidemia, o primeiro mito é que o desconhecido é mais perigoso, acontece, então, que as pessoas se protegem dos estranhos e têm poucos cuidados com aqueles mais próximos. O segundo mito, pelo menos na Argentina, é que a cura depende fundamentalmente de um medicamento e da prevenção através de vacina. Os processos de saúde-enfermidades-atenção são complexos, esquecem que a principal estratégia da defesa é a cura do corpo a partir do sistema imunitário. Este, por sua vez, depende de fatores que não são somente biológicos. É influenciado por variáveis que vão desde a alimentação e o repouso, até o estado de ânimo e o stress ligado às condições de vida. Então, para curar-se é necessário valorizar as tecnologias tradicionais leves: repousar, manter-se num ambiente estável etc. Isso também indica vulnerabilidades ligadas às condições de vida, não só as dos setores da população que não têm direitos básicos (alimento, abrigo etc.) garantidos, como também as daquelas pessoas submetidas a subemprego, condições de contratação precária que impedem de faltar ao trabalho ainda que estejam doentes etc.
É um mito contemporâneo o de que uma pílula mágica soluciona tudo. Com esta gripe, vamos ter que valorizar os cuidados no sentido mais amplo. Não se trata de tomar pílulas e seguir como se estivesse tudo tranquilo. É preciso favorecer e potencializar os fatores protetores e de luta contra a doença em que o corpo e a pessoa têm.
Em algum artigo apontei, inclusive, o risco que significam as dietas hipocalóricas a que se submetem muitas jovens por razões estéticas, vulnerabilizando-se às doenças. Finalmente, acredito que tem acontecido um excessivo alarme levando em conta sua baixa taxa de letalidade. Mais do que mitos, poderíamos falar de uma cultura hegemônica que tende a negar a morte e o risco, naturalizando alguns, inclusive. De toda forma, é mais interessante apontar que esse vírus tem atuado como um fator para análise de uma série de funcionalidades sociais e de estados dos sistemas de saúde frente a uma emergência, obrigando a revisar algumas situações e pondo outras à prova.
IHU On-Line – Em sua opinião, como os grandes laboratórios farmacêuticos estão atuando durante esta “crise da gripe”?
Alicia Stolkiner – Estima-se que para se manter no mercado mundial, os laboratórios devem lançar anualmente dois ou três produtos capazes de alcançar um milhão de dólares nas vendas. Isso significa que os medicamentos devem avançar criando mercados. Para isso, aprofundam-se dois processos culturais: o da medicalização da vida cotidiana e o da geração da certeza de que todo problema de saúde (e, às vezes, todo e qualquer problema) encontra uma resposta em um produto médico-farmacêutico-tecnólogico.
Antes da epidemia em si, as propagandas de medicamentos destinados a aliviar os sintomas de gripe ou resfriado, a fim de se manter em atividade, favorecerão condutas que logo, durante a epidemia, agravarão a situação. Isto ocorrerá por dois motivos: porque as pessoas só consultarão um médico em casos mais avançados e graves; e porque, ao não manterem-se em repouso, contribuirão para a disseminação de doenças. Deveríamos ter uma maior regulação sobre as propagandas de medicamentos de venda livre ou sobre as propagandas de medicamentos em produtos alimentícios, pois são potencialmente danosos para a saúde.
Também estão em jogo os interesses de produção de uma vacina que seria para todo o mundo (um "A pergunta que está por trás de tudo isso é se a lógica de mercado pode reger a vida dos habitantes do planeta"
negócio incrível) e o famoso Tamiflu, que tem uma curiosa história com o caso da chamada gripe aviária. A pergunta que está por trás de tudo isso é se a lógica de mercado pode reger a vida dos habitantes do planeta.
IHU On-Line – Você pode analisar a evolução viral do H1N1?
Alicia Stolkiner – Aparentemente sua mutação e origem estão ligadas às formas atuais de produção intensiva de alimentos, neste caso de carne de porco. Sua propagação rápida no mundo é uma mostra da interconexão inevitável da atual fase de desenvolvimento.
IHU On-Line – Qual sua opinião sobre a forma como esta gripe está sendo noticiada?
Alicia Stolkiner – Acredito que os meios trataram, em geral, mal o tema. Eles responderam de maneira alarmista e com escassa informação útil. Um colega, Federico Tobar, escreveu recentemente: “parece que mitigar o vírus poderia resultar tão difícil quanto o rumor”. É notável que as mortes são permanentemente ressaltadas, mostraram corpos sem vida, mas – com algumas exceções – teve escassa informação destinada aos cuidados coletivos que se deve ter. Todas as mensagens eram destinadas ao cuidado individual pela medida fundamental de não tocar outras pessoas e lavar bem as mãos. Poucas mensagens propiciaram o “cuidar o outro”, para pensar práticas sociais compartilhadas.
IHU On-Line – Existe um plano na Argentina para combater a gripe A?
Alicia Stolkiner – O sistema de saúde argentino é altamente fragmentado e segmentado. O Ministério da Saúde tem de pouca a nula ingerência sobre as decisões que tomam os governos provinciais ou municipais, dos quais dependem os serviços de saúde. Uma parte da população é atendida no sistema de Obras Sociais e a outra pelo sistema privado. Este último notifica mal as informações de atendimentos. Também a epidemia chegou num momento em que a gestão nacional estava debilitada por um processo eleitoral onde houve a mudança do ministro. A concretização de uma política unificada recém começou a olhar para o fim da epidemia. Acredito que a resposta foi tardia, mas isso é um produto das características do sistema.
Finalmente, optou-se pela suspensão de classes e atividades, mas isso não foi acompanhado, por exemplo, pela suspensão de algumas partidas de futebol importantes em que houve grande concentração de pessoas. A suspensão das aulas teve um efeito inesperado, não sobre a gripe, mas em relação à bronquite que, pela primeira vez em anos, parece não ter chegado ao pico epidêmico no inverno.
IHU On-Line – Este vírus é mais violento? Como podemos explicar a morte de jovens por causa desta gripe?
Alicia Stolkiner – As cifras atuais na Argentina estão indicando que a maior mortalidade não foi em jovens, mas sim na população de 45 a 59 anos. Efetivamente, o vírus atacou aos jovens e, assim, diferenciou-se da gripe estacional que assola fundamentalmente as crianças e os idosos. Também morreram jovens e alguns deles não estavam nos grupos de risco. Acredito que a mortalidade da população jovem e sã pode ter sido incrementada pela prática de amenizar os sintomas e seguir em atividade até que a enfermidade avance. Muitas das consultas se realizaram quando a pessoa já tinha pneumonia bilateral, que foi a principal causa de morte.