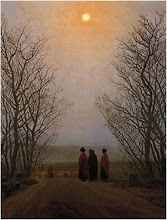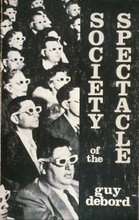Ladislau Dowbor
26 de julho de 2014
O
livro de Thomas Piketty está nos fazendo refletir, não só na esquerda,
mas em todo o espectro político. Cada um, naturalmente, digere os
argumentos, e em particular a arquitetura teórica do volume, à sua
maneira. Os números de páginas se referem ao original francês.
1 A desigualdade na mira
A
verdade é que Thomas Piketty, com a força da juventude e uma saudável
distância das polarizações ideológicas que tanto permeiam a análise
econômica, abriu novas janelas, trouxe vento fresco, nos permitiu
deslocar a visão. Se bem que o problema da distribuição da renda sempre
estivesse presente nas discussões, a teoria econômica terminou
centrando-se muito mais no PIB, na produção de bens e serviços, e muito
insuficientemente na repartição e nos mecanismos que aumentam ou reduzem
a desigualdade.
Esta
atingiu níveis obscenos. Quando uma centena de pessoas são donas de
mais riqueza do que a metade da população mundial, enquanto um bilhão de
pessoas passa fome, francamente, achar que o sistema está dando certo é
prova de cegueira mental avançada. Mas para muita gente, trata-se
simplesmente de incompreensão, de desconhecimento dos mecanismos.
A
lenta dissipação da neblina que cerca o problema da desigualdade vem
sendo construída nas últimas décadas. Basicamente, enquanto a partir dos
anos 1980 o capitalismo entra na fase de dominação dos intermediários
financeiros sobre os processos produtivos – o rabo passa a abanar o
cachorro (the tail wags the dog)é a expressão usada por
americanos como Joel Kurtzmann – e com isto passa a aprofundar a
desigualdade, foram se construindo, com grande atraso, as análises das
implicações.
Um
amplo estudo do Banco Mundial ajudou bastante ao mostrar que
basicamente quem nasce pobre permanece pobre, e que quem enriquece é
porque já nasceu bem. É a chamada armadilha da pobreza, a poverty trap. Esta
pesquisa mostrou que a pobreza realmente existente simplesmente trava
as oportunidades para dela sair. Com Amartya Sen passamos a entender a
pobreza como falta de liberdade de escolher a vida que se quer levar,
como privação de opções. O excelente La Hora de la Igualdad da
CEPAL mostrou que a América Latina e o Caribe atingiram um grau de
desigualdade que exige que centremos as nossas estratégias de
desenvolvimento em torno a esta questão. Isto para mencionar algumas
iniciativas básicas. O livro do Piketty não surge do nada, sistematiza
um conjunto de visões que vinham sendo construídas.
E
há naturalmente o acompanhamento do desastre crescente através de
tantas instituições de estudos estatísticos. Hoje conhecemos o tamanho
do rombo, temos dados para tudo, sabemos quem são os pobres. O The Next 4 Billion do
Banco Mundial mostra que temos quase dois terços da população do
planeta “sem acesso aos benefícios da globalização”, os dados do
Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2014 do PNUD mostram que 2,2
bilhões de pessoas vivem na pobreza, dos quais um pouco mais de um
bilhão na miséria, abaixo de 1,25 dólares ao dia. Temos inclusive os
detalhes dos 180 milhões de crianças que passam fome, de 4 milhões de
crianças que morrem anualmente por não ter acesso a uma coisa tão
elementar como água limpa. O Working for the Few, da Oxfam/UK,
apresenta uma visão geral da desigualdade, em particular a da riqueza
(patrimônio familiar acumulado), que ultrapassa de longe a desigualdade
da renda.
Os
nossos dilemas não são misteriosos. Estamos administrando o planeta
para uma minoria, através de um modelo de produção e consumo que acaba
com os nossos recursos naturais, transformando o binômio
desigualdade/meio ambiente numa autêntica catástrofe em câmara lenta.
Enquanto isto, os recursos necessários para financiar as políticas de
equilíbrio estão girando na ciranda dos intermediários financeiros, na
mão de algumas centenas de grupos que sequer conseguem administrar com
um mínimo de competência as massas de dinheiro que controlam. O desafio,
obviamente, é reorientar os recursos para financiar as políticas
sociais destinadas a gerar uma economia inclusiva, e para financiar a
reconversão dos processos de produção e de consumo que revertam a
destruição do meio ambiente.
Falta
convencer, naturalmente, o 1% que controla este universo financeiro
diretamente através dos bancos e outras instituições e crescentemente de
modo indireto através da apropriação dos processos políticos e das
legislações. As pessoas não entendem o que é bilionário, e realmente não
é um desafio que faz parte do nosso cotidiano. Mas uma forma simples de
entender esta estranha criatura nos é apresentada por Susan George: um
bilhão de dólares aplicados em modestos 5% ao ano numa poupança, rendem
ao seu proprietário 137 mil dólares ao dia. O que ele vai fazer com este
dinheiro? Por mais guloso que seja o bilionário, não há caviar que
resolva. O dinheiro, portanto, é reaplicado, e a fortuna se transforma
numa bola de neve, gerando os super-ricos, os que literalmente não sabem
o que fazer com o seu dinheiro.
Um
segundo mecanismo a ser entendido, é a diferença entre a renda e o
patrimônio. A renda é anual – resultado de salário, de aluguéis, do
rendimento de aplicações financeiras etc. – enquanto o patrimônio (net household wealth, patrimônio
domiciliar líquido) – constitui a riqueza acumulada, sob forma de
casas, contas bancárias (menos dívidas), ações e outras formas de
riqueza. A verdade é que quem ganha pouco compra roupa para os filhos,
paga aluguel, gasta uma grande parte da sua renda em comida e
transporte, e não compra belas casas, fazendas e iates, e muito menos
ainda faz aplicações financeiras de alto rendimento. O pobre gasta, o
rico acumula. Sem processo redistributivo, gera-se uma dinâmica
insustentável a prazo.
O
livro do Piketty não é apenas muito bom, é oportuno. Pois é nesta
situação explosiva de desigualdade no planeta, quando até Davos (Davos,
meu Deus!) clama que a situação é insustentável, que surge uma
explicitação de como se dão os principais mecanismos que geram a
desigualdade, como evoluíram no longo prazo, como se apresentam no
limiar do século XXI, e em particular como o problema pode ser
enfrentado.
O
raciocínio básico é simples e transparente: os avanços produtivos do
planeta se situam na ordem de 1,5% a 2% ao ano, enquanto as aplicações
financeiras dos que possuem capital acumulado aumentam numa ordem
superior a 5%. Isto significa que uma parte crescente do que o planeta
produz passa para a propriedade dos detentores de capital, que passam a
viver da renda que este capital gera, o que justamente nos leva à
fantástica concentração de riqueza nas mãos de poucos. E do lado
propositivo, esperar que mecanismos econômicos resolvam o desequilíbrio
crescente faz pouco sentido: precisamos criar ou expandir, segundo os
casos, um imposto progressivo sobre o capital. O que inclusive seria
produtivo, pois incitaria os seus detentores a buscar realizar
investimentos produtivos em vez de observarem sentados o crescimento das
suas aplicações financeiras.
Utópico?
Os ricos pagarem impostos não é utópico, é necessário. E tributar o
capital parado nas cirandas financeiras, rendendo sem produção
correspondente, é particularmente interessante. Na proposta de Piketty
para a Europa, seriam 0% para patrimônios inferiores a 1 milhão de
euros, 1% para os que se situam entre 1 e 5 milhões, e 2% para os acima
de 5 milhões. Não é trágico, não deve levar os muito ricos ao desespero,
e geraria o equivalente a 2% do PIB europeu (cerca de 300 bilhões de
euros), o suficiente para liquidar por exemplo o endividamento público
em pouco anos, e tirar os países membros das mãos dos intermediários
financeiros. (889). Seria um bom primeiro passo.
Novo?
Não, não é novo, mas é apresentado no livro do Piketty de maneira muito
legível (inclusive para não economistas), extremamente bem documentada,
e com uma clareza na explicação passo a passo que transforma a obra
numa ferramenta de trabalho de primeira ordem.
2 O lugar da ciência econômica
Chamar
a economia de ciência faz parte do problema. Faz parecer que há leis
imutáveis, como as da física, que uma vez descobertas permitem ações
racionais. Piketty, citando Josiah Wedgwood, considera que “as
democracias políticas que não democratizam o seu sistema econômico são
intrinsicamente instáveis”. (821) Democratizar o sistema econômico
implica justamente a intervenção do “demos”, do povo, sobre o sistema
econômico. O que significa que estamos falando não de mecanismos
imutáveis, mas de regras do jogo politicamente definidas e decididas,
para que a economia funcione para o proveito de todos, ou, segundo o
maior ou menor grau de democracia, o proveito de poucos. Isto também
significa que as regras do jogo econômico podem ser alteradas, por serem
regras políticas. Reconstitui-se assim o elo entre a economia e os
processos democráticos.[2]
Um dos aportes fundamentais do Capital no Século XXI,
é o de recolocar a economia no seu devido lugar, como uma das áreas das
ciências sociais, voltando com isto a ser “economia política”, como na
sua origem, ou seja, o estudo da dimensão econômica dos diversos
processos da reprodução social. Com isto, o estudo dos mecanismos
econômicos volta a ter pé e cabeça, ao ser compreendido nas suas
complexas interações com a política, com os mecanismos de poder sob suas
diversas formas, com os valores sociais das diferentes épocas e
culturas. A desigualdade deixa de ser vista como o resultado de leis
duras mas inevitáveis, mas como uma construção política que pode ser
alterada. E a desigualdade que hoje vivemos, vista essencialmente como
uma deformação da própria democracia. É o que Irving Fischer chamou de an undemocratic distribution of wealth, distribuição não-democrática de riqueza. (817)
Se isto pode parecer evidente, e para muitos de nós sempre foi, a realidade é que para o mainstream econômico,
até ontem, as desgraças do mundo resultavam do fato que as políticas
públicas estavam deformando as leis naturais da economia, que tinham a
mágica virtude de restabelecerem os equilíbrios. Durante quanto tempo
nos foi repetida a fábula da mão invisível? A imensa popularidade de
Milton Friedman e da Escola de Chicago não resultou de qualquer
criatividade científica particular, mas do fato de terem desenvolvido
cálculos destinados a mostrar que a injustiça era de certa forma justa:
era conforme às leis econômicas. Vestir a ganância dos interesses
dominantes com respeitabilidade acadêmica rende.
Inventar
aparências de justificação científica para o enriquecimento maior dos
ricos rende muito. Como aparece tão bem no documentário Inside Job (Trabalho
Interno), a Alta Academia e Wall Street passaram a trabalhar de mãos
dadas, colonizaram o FED e o Tesouro, reduziram pela metade os impostos
sobre os ricos, e geraram uma crise planetária. “A taxa marginal do
imposto sobre a herança, aplicada aos níveis mais elevados nos Estados
Unidos, passou de 70% em 1980 para 35% em 2013”. (811) O mesmo processo
foi utilizado relativamente aos países mais pobres: “A partir dos anos
1980-1990, a nova onda ultraliberal vinda dos países desenvolvidos impõe
aos países pobres cortes nos setores públicos e coloca no último grau
de prioridades a construção de um sistema fiscal propício ao
desenvolvimento. (789) É a herança, aliás, que hoje enfrentamos no
Brasil.
A
crise de 2008 deixou as coisas mais claras. O resgate veio, como em
1929, da volta do Estado como instrumento central de regulação
econômica. O que foi a lei de regulação Glass-Steagall após a crise de
1929, hoje tenta-se recuperar com a lei Dodd-Frank. Ambas duramente
combatidas, então como hoje, pelo universo de intermediários
financeiros, os que vivem de taxar a produção e consumo dos outros. Aqui
não há complexidades teóricas da ciência econômica, e sim a luta nua e
crua, com propinas, lobbies e ameaças, guerras e derrubadas de governos,
pelo enriquecimento dos mais ricos.
“Eu não concebo outro lugar para a economia, escreve Piketty no subtítulo Por uma economia política e histórica, do
que como subdisciplina das ciências sociais, ao lado da história, da
sociologia, da antropologia, das ciências políticas e de tantas
outras…Não gosto muito da expressão ‘ciência econômica’, que me parece
terrivelmente arrogante e que poderia nos fazer acreditar que a economia
tenha atingido uma cientificidade superior, específica, distinta da
‘economia política’, talvez um pouco velhinha (viellotte), mas
que tem o mérito de ilustrar o que me parece ser a única especificidade
aceitável da economia no seio das ciências sociais, a saber a visão
política, normativa e moral”. (945)
No
plano propositivo, trata-se de resgatar o conhecimento histórico: “A
experiência histórica continua sendo a nossa principal fonte de
conhecimento”(947). Isto leva a um conselho muito saudável: “Os outros
pesquisadores em ciências sociais não devem deixar o estudo dos fatos
econômicos aos economistas, e devem parar de sair correndo logo que
aparece uma cifra, e de se contentar em dizer que cada cifra é uma
construção social, o que é naturalmente sempre verdadeiro, mas
insuficiente.”(947) Precisamos entender “as instituições, as regras e as
políticas que terminam por modelar as evoluções econômicas e sociais. É
possível, e até indispensável, ter uma abordagem que seja ao mesmo
tempo econômica e política, salarial e social, patrimonial e
cultural.”(949) ) Assim, o binômio riqueza e poder só pode ser analisado
e entendido como amplo processo social e político, como realidade total
e complexa. Aqui, a economia volta ao seu lugar, como economia
política, conjunto de ferramentas analíticas que adquirem riqueza e
sentido através da articulação com as outras ciências sociais, e onde a
ética retoma o seu devido lugar.
3 Renda e patrimônio
Se
uma pessoa constrói uma casa, realizou um investimento. Se vendeu a
casa e aplicou o dinheiro para render juros, realizou uma aplicação
financeira. A construção da casa gerou um novo bem na economia, a
aplicação financeira não mudou o estoque de riqueza do país. Houve
apenas uma transferência: quem tinha o dinheiro agora tem uma casa, e
quem tinha uma casa agora tem o dinheiro. Para os americanos, fica
bastante confuso, pois eles usam a palavra investment para tudo, inclusive para atividades especulativas. Em francês fica bem claro, investissementse placements financiers. No
Brasil temos também a distinção, investimento e aplicação financeira,
mas os bancos insistem em chamar tudo de investimento, fica parecendo
mais nobre, e gera ilusão de serem produtivos. Os bancos podem até
financiar um empreendedor que vai criar uma empresa de produtora de
móveis, por exemplo, mas aqui o investidor é o empresário, e o banqueiro
é um intermediário financeiro que realoca aplicações financeiras. A
confusão é desnecessária, e frequentemente proposital. Pode-se jantar
numa mesa, não nos papéis que representam o seu valor.
Com
o conceito de renda temos um problema semelhante. A minha renda decorre
do meu trabalho, descontada na folha pois sou assalariado. Mas quando
falamos que alguém “vive de rendas”, não pensamos no seu rendimento como
fruto direto do trabalho. É um rentista, na definição do Houaiss
“aquele que vive exclusivamente de rendas”. Em inglês, desta vez fica
mais claro, pois não se chama tudo de “renda” como no Brasil.
Diferencia-se claramente income e rent. Em francês, falaremos emrevenu e rente, termos igualmente bem diferentes. No Brasil, temos o rentista, mas
não temos a palavra “renta”. Seria útil aqui, adotar o conceito de
rendimento, no sentido que usa Piketty, ao se referir por exemplo ao
rendimento do capital (rendement du capital). (142)
As
distinções, aqui, são fundamentais, porque a desigualdade assume
diversas formas e tem várias fontes. Fiquemos aqui acordados que para
fazer a economia crescer precisamos de investimentos, e que o resultado
do crescimento econômico vai se manifestar, ao fim a ao cabo, na
capacidade de compra diferenciada de cada família. Esta capacidade de
compra é representada pela renda familiar anual, que provém tanto da
renda do trabalho, como de rendimentos de diversas aplicações
financeiras. Aqui, as coisas ficam bastante mais claras, pois no nível
da família, como unidade básica, existe um fluxo anual de renda, e um
estoque de patrimônio acumulado, que também chamamos de riqueza.
Os
estudos de concentração de renda, que nos dão por exemplo medidas de
desigualdade como o coeficiente de Gini, medem essencialmente a renda
anual disponível para as famílias, segundo as classes de renda. Mas não
nos informam sobre as fontes desta renda. Estudos sistemáticos da
desigualdade de riqueza, de patrimônio familiar, são relativamente
recentes. O WIDER (World Institute for Development Economics Research),
ou o Crédit Suisse, por exemplo, já permitem estudos comparativos
relativamente sérios, e Piketty se lamenta do começo ao fim do livro com
a impressionante escassez de informações sobre a quem pertence afinal a
riqueza que a sociedade cria. Ter de recorrer a fontes de glamourização
de fortunas como Forbes para ter informações indispensáveis à análise
dos desequilíbrios econômicos é cientificamente lamentável e
tecnicamente insuficiente. Tanto se fala em transparência dos serviços
públicos, mas sobre o imenso estoque, alocação e usos dos capitais
privados estamos simplesmente com um impressionante déficit de
informações.
O
rendimento do capital, sob suas diferentes formas – juros, aluguéis,
dividendos de ações etc. – pressupõe poupança para que o capital se
forme, o que com maior frequência surge da herança de um capital que
tanto mais facilmente se acumula na família quanto menos filhos as
famílias possuem. A realidade básica, é que os dois terços da população
mundial simplesmente não auferem renda anual suficiente para poupar e
acumular patrimônio. E como não têm patrimônio acumulado, vivem apenas
da renda do trabalho, o que raramente possibilita a formação de um
capital capaz de reforçar a renda e ir gradualmente acumulando riqueza. O
pobre compra roupa, aluga casa, às vezes até consegue comprá-la mas se
endivida para pagar durante décadas, ou seja, consome o que recebe.
Um
bilionário, para pensarmos grande, parte de outro patamar. Um bilhão de
reais aplicados a 5% ao ano, o que não constitui nenhuma remuneração
excepcional, rendem ao bilionário 137 mil reais ao dia. Como este
rendimento não pode ser absorvido pelo consumo individual, transforma-se
em mais aplicações, gerando uma espiral ascendente de enriquecimento,
enquanto a renda das famílias na base da sociedade estagna. Gera-se
assim um processo cumulativo de desigualdade. A partir de um certo
nível, o grosso do ganho resulta não do esforço produtivo, mas do
próprio mecanismo de aplicações financeiras.
Nas
cifras da tabela acima, do Crédit Suisse, banco que tem tudo para
entender de fortunas acumuladas, constatamos que 0,7% da população
mundial, 32 milhões de pessoas, se apropriaram de 41% da riqueza do
planeta (patrimônio acumulado, não renda), enquanto 68,7%, 3,2 bilhões
de pessoas com patrimônio inferior a 10 mil dólares têm apenas 3%. Como
ordem de grandeza para ficar na memória, 1% dos mais ricos detém a
metade do patrimônio da humanidade, enquanto os dois terços mais pobres
detêm 3%. Não há como equilibrar politicamente o planeta com esta
situação, e muito menos quando está se agravando. Cifras muito mais
impressionantes ainda se referem aos super-ricos, os 0,1 e 0,01% da
população mundial, onde esta concentração cresce exponencialmente.[3]
Não
só a riqueza se acumula no topo da pirâmide social, mas o rendimento
financeiro. Os muito ricos aplicam em papéis que cujo rendimento é muito
superior ao crescimento da economia em geral. As grandes fortunas,
inclusive, permitem aplicações financeiras de alto rendimento, muito
além das pequenas aplicações típicas da classe média, por poderem pagar
especialistas na gestão das suas fortunas. Tomando o exemplo do fundo de
aplicações da universidade de Harvard, cujos dados são abertos e
detalhados no longo prazo, trata-se de rendimentos da ordem de 10%
líquidos ao ano, enquanto a economia cresce entre 1,5 e 2%. Aqui não há
mistérios: quando uma minoria se apropria sistematicamente de recursos
em ritmo muito superior ao crescimento da produção, gera-se um
desequilíbrio cumulativo catastrófico. Catástrofes, aliás, que pontuaram
os reajustes estruturas das crises e guerras do século passado. É tempo
de constituirmos uma política econômica que enfrente esta dinâmica, que
já tem sido qualificada justamente deslow-motion catastrophe, catástrofe em câmara lenta.
O
fato do livro do Piketty se basear na distinção entre o fluxo anual de
renda e o estoque de riqueza acumulada, permite assim deixar muito mais
claro o processo cumulativo de desigualdade que se construiu na
sociedade moderna. Como além disto o poder político dos mais ricos
permitiu passar leis que desregulam a especulação financeira e que
reduzem drasticamente o imposto sobre a fortuna ou sobre transmissões de
herança, fica clara a falha estrutural do sistema em termos de
equilíbrios de longo prazo.[4] “A evolução geral não deixa nenhuma
dúvida: para além das bolhas, estamos assistindo sim a um grande retorno
do capital privado nos países ricos desde os anos 1970, ou melhor, à
emergência de um novo capitalismo patrimonial”.(273)
As
projeções para o nosso século, que é o que Piketty busca delinear,
mostram a necessidade de intervenções reguladoras: “Uma conclusão parece
desde se delinear com com clareza: seria ilusório imaginar que exista
na estrutura do crescimento moderno, ou nas leis da economia de mercado,
forças de convergência que levem naturalmente a uma redução das
desigualdades patrimoniais ou a uma harmoniosa estabilização” (598)
4 Riqueza e merecimento
A
riqueza dos ricos é merecida? Quando os gestores ganham 300 vezes mais
do que os trabalhadores na base da empresa, distância impressionante e
que cresceu dramaticamente nas últimas décadas, podemos sem dúvida nos
colocar questionamentos éticos. Eles, naturalmente, não têm 300 vezes
mais filhos. Nem produzem 300 vezes mais. Ademais, ninguém precisa de
tanto dinheiro, tanto assim que o essencial destes ganhos se transforma
em aplicações financeiras, que simplesmente drenam recursos que poderiam
dinamizar atividades produtivas para assegurar rendimentos financeiros.
A
defesa da desigualdade mais generalizada é a que consiste em
desqualificar quem a denuncia: seria um invejoso. O fenômeno
provavelmente existe, mas a imensa maioria das pessoas quer simplesmente
que o sistema funcione, assegurando a cada qual uma escola decente para
os filhos, uma cerveja ou um vinho no fim de semana, a tranquilidade de
um sistema de saúde acessível, um ambiente de vizinhança aprazível e
razoavelmente seguro, e a redução da permanente ameaça do drama maior: a
perda do emprego, o sofrimento e humilhação de não poder sustentar a
própria família. François Villon exprimiu isto nesta belíssima prece do
século 15º: “Senhor, meu Senhor dos olhos verdes…a cada qual dê um
pouco, e não se esqueça de mim.” Nunca é demais recordar que com o que
produzimos hoje no Brasil, se fosse repartido de maneira equilibrada,
teríamos algo como 7 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não se
trata de inveja, e sim de bom senso e funcionalidade. E de um pouco de
justiça também.
Muito
mais provável é a vontade de se ver invejado. Desde Veblen sabemos a
importância de parecer importante, e em particular de cobrir de coisas
caras a nossa eventual falta de importância. As ‘importâncias’ que se
tornaram proprietárias de apartamentos de 20 milhões na margem do rio
Pinheiros, em São Paulo, têm de viver de janelas fechadas pelo fedor que
emana deste esgoto a céu aberto, e enfrentam com ar condicionado a
visibilidade do seu status. Inúmeros estudos, nos mais diversos países,
mostram que acima de um nível relativamente modesto de renda, dinheiro a
mais não aumenta a felicidade. Deverá ser procurada na criatividade, na
riqueza do convívio e não das compras, no resgate do tempo livre, por
vezes no prazer de um joguinho de praia ou de várzea onde o espaço é
gratuito e as pessoas se tornam iguais. O problema não está na inveja,
mas na idiotice de pessoas desorganizarem a sociedade através de
batalhas comerciais e financeiras sem sentido, e que sequer as deixam
mais felizes.
É
importante aqui lembrar a imagem inversa: o dinheiro na base da
sociedade gera sim muita felicidade. Uma família poder guardar água
fresca, comida e medicamentos na geladeira altera muito a qualidade de
vida. Ou seja, a compra do básico, o alimento, o acesso a uma casa
decente, todos estes elementos não só trazem e multiplicam felicidade,
como asseguram a dinamização de um conjunto de atividades econômicas,
ampliam a base de empregos, reduzem o impacto dos ciclos de crises
econômicas. A este consumo é preciso acrescentar a importância crescente
do consumo coletivo: o acesso universal à educação, saúde,
infraestruturas de lazer e esporte e outros bens públicos e gratuitos em
muitos países ricos assegura economias de escala na sua produção, gera
uma igualdade de chances à partida para os mais jovens, e reduz
dramaticamente as tensões sociais. O dinheiro é tanto mais produtivo
quanto mais se reparte de maneira equilibrada. Um candidato a empresário
precisaria sem dúvida de mais dinheiro para poder investir, mas para
isto existe o crédito, quando alocado sob forma de fomento econômico e
não de complexos mecanismos de especulação financeira.
Um
elemento essencial na visão de Thomas Piketty, é que uma parte
desproporcional dos recursos termina parando nas mãos de uma ínfima
minoria. Aqui estamos falando de menos de 1% da população. Lembremos,
como vimos acima, que na pesquisa do Crédit Suisse, 0,7% da população
mundial é dona de 41% da riqueza acumulada, 99 trilhões de dólares (o
PIB dos Estados Unidos é de 14 trilhões, o PIB mundial da ordem de 80
trilhões). Estamos falando, portanto, não da classe média, e sim dos
ricos, os chamados HNWI, ou High Net Worth Individuals.
Uma
forma de analisar as fortunas, é ver a que servem. Para já, não para o
consumo, ainda que algumas formas espalhafatosas de consumo conspícuo
deem na vista. Piketty faz o cálculo seguinte: “Com um capital de 10
bilhões de euros, basta destinarem o equivalente a 0,1% do capital ao
consumo para financiar um modo de vida de 10 milhões de euros
(aproximadamente 35 milhões de reais por ano). Se o rendimento obtido é
de 5%, isto significa que a taxa de poupança sobre este rendimento é de
98%; atinge 99% se o rendimento é de 10%; de qualquer forma, o consumo é
insignificante”. Portanto, a quase totalidade do rendimento do capital
pode ser aplicada. Trata-se aqui de um mecanismo econômico elementar,
mas apesar disto importante, e cujas consequências temíveis são muito
frequentemente subestimadas, em termos de dinâmica de longo prazo para a
acumulação e a repartição dos patrimônios. O dinheiro tende por vezes a
reproduzir-se por si só.”(703)
Portanto,
ainda que tenham frequentemente origem numa atividade produtiva, as
fortunas acumuladas tendem a aumentar de forma cumulativa, por meio das
aplicações financeiras, gerando uma espiral descontrolada. Estes
recursos, por sua vez, em mãos dos grandes intermediários financeiros a
quem são confiados para a sua administração (bancos, hedge funds e
fundos especulativos diversos) conferem ao sistema financeiro um poder
radicalmente superior aos próprios sistemas produtivos. Lembremos aqui a
pesquisa do ETH, o Instituto Federal Suiço de Pesquisa Tecnológica: no
conjunto das grandes corporações do planeta, apenas 147 grupos controlam
40% do total dos recursos, sendo que 75% destes grupos são bancos. Esta
concentração, levando à financeirização da economia hoje amplamente
estudada, está na origem da crise financeira mundial de 2008 e da
desorganização das finanças públicas.[5]
Esta
distinção clara que Piketty utiliza no seu estudo, entre rendimentos
que resultam de produção e os que resultam do patrimônio acumulado,
permite portanto entender por que razão há tanta riqueza acumulada,
tantos bilionários, e tão fraca dinâmica econômica. Não são os
produtores que manejam o planeta, e sim os grandes intermediários, que
cobram pedágio sobre diversas atividades produtivas, e frequentemente
mudam as leis, evitam os impostos, desequilibram a economia. Esta
compreensão permite por sua vez justificar, questão que veremos mais
adiante, um imposto progressivo sobre o capital, obrigando os que o
detêm a buscar a sua utilização produtiva, através de investimentos na
economia real. “Claramente, nos diz Piketty, a fortuna não é apenas
questão de mérito”.
5 – A origem das fortunas
A
origem das fortunas, e por sua vez das desigualdades, nem sempre se
localiza numa garagem, e muito menos a sua reprodução e ampliação
ulterior. Basicamente, se trata de heranças, de aplicações financeiras, e
dos mega-saláriosde executivos em algumas grandes corporações. As
dinâmicas, naturalmente, são frequentemente articuladas. E tende a jogar
um papel importante o controle ou capacidade de pressão sobre os
governos.
Piketty nos traz o exemplo de Liliane Bettencourt, a partir dos artigos da Forbes.
A sua fortuna, hoje de 23 bilhões de dólares, lhe veio por herança,
pois nunca trabalhou. Mas o que herdou inicialmente, foram 2 bilhões de
dólares, que devidamente aplicados foram e continuam crescendo ao ritmo
de 10% a 11% (descontada a inflação).(702) Temos aqui na origem uma
invenção e atividade produtiva, a tecnologia L’Oréal de tintas para
cabelo, desenvolvida em 1907, mas depois é só deixar o dinheiro crescer.
Quando subimos para o 1% dos mais ricos, o essencial dos rendimentos
provém de aplicações financeiras: “As ações e participações empresariais
compõem a quase totalidade das fortunas mais importantes”.(408)
“Os
empreendedores tendem assim a se transformar em rentistas, não somente
na passagem das gerações, mas igualmente no decorrer de uma mesma
vida”.(708) O que leva Piketty a uma visão equilibrada: “Por mais
justificada que sejam à partida, as fortunas se multiplicam e se
perpetuam por vezes para além de qualquer limite e justificação racional
possível em termos de utilidade social…Toda fortuna é ao mesmo tempo
parcialmente justificada e potencialmente excessiva…Trata-se aqui da
razão central justificando a introdução de um imposto progressivo anual
sobre as maiores fortunas mundiais, única maneira de permitir um
controle democrático deste processo potencialmente explosivo, ao mesmo
tempo que se preserva o dinamismo empresarial e a abertura econômica
internacional.”(708)
Na
dimensão histórica do processo, a principal tendência global observada e
amplamente comprovada no livro, é que entre o renda do trabalho e da
inovação por uma lado, e os rendimentos patrimoniais por outro, estes
últimos se tornaram absolutamente dominantes durante a fase final do
século 19º e o início do século 20º, ruíram no processo mundial
destrutivo das duas guerras mundiais e da crise de 1929, e voltaram,
neste início do século 21º, praticamente ao nível máximo atingido na
véspera da primeira guerra mundial de 1914.
Para
dar uma dimensão mais concreta ao raciocínio, é útil acrescentar ao
exemplo acima de Liliane Betttencourt, com ganhos hoje de aplicações
essencialmente financeiras, os exemplos clássicos de Bill Gates e de
Carlos Slim, que se revezam no topo das fortunas mundiais.
No
caso de Carlos Slim, a Oxfam nos traz uma descrição sumária: “A
privatização das telecomunicações mexicanas há 20 anos nos dá um claro
exemplo do nexo entre comportamento monopolístico, instituições legais e
de regulação insuficiente, e a desigualdade econômico que resulta.
Carlos Slim, do México, entra e sai do posto de pessoa mais rica do
mundo, possuindo uma riqueza estimada em 73 bilhões de dólares. A
enormidade desta riqueza resulta do estabelecimento de um monopólio
quase completo sobre serviços de comunicações em linhas fixas, móveis e
de banda larga no México…Uma recente pesquisa de políticas e de
regulação das telecomunicações no México, realizada pela OCDE, concluiu
que o monopólio sobre o setor tem tido um efeito negativo significativo
sobre a economia, e ocasiona um custo permanente para o bem estar dos
cidadãos que se viram obrigados a pagar preços inflados pelas
telecomunicações.”(Oxfam, 24). Para se ter uma ideia, “os rendimentos
que a sua fortuna gera poderiam pagar os salários de 440 mil
mexicanos.”(Oxfam, 9)[6]
Temos aqui a combinação de renda de monopólio (em inglês seria rent, forma diferenciada de income),
com rendimentos financeiros, o que faz com que uma das duas maiores
fortunas do planeta tenha origem em iniciativas prejudiciais para a
economia (eliminação da concorrência pelo monopólio e esterilização da
poupança pelas aplicações financeiras. No caso brasileiro o processo se
manifesta no oligopólio Claro, Vivo e Tim. É sempre útil lembrar que
formação de cartel é crime claramente definido na nossa Constituição).
No
caso de Bill Gates, a sua fortuna é vista como legítimo resultado de
criatividade e empreendedorismo. O texto do Piketty é aqui até
divertido: “Bill Gates aparece com todas as virtudes do empreendedor
modelo e merecedor…Sem dúvida, este verdadeiro culto se explica pela
necessidade irresistível das sociedades democráticas modernas de darem
um sentido às desigualdades…Por outro lado, imagino que as suas
contribuições se apoiaram nos trabalhos de milhares de engenheiros e de
pesquisadores em eletrônica e informática fundamental, sem os quais
nenhuma das invenções nestes campos teria sido possível, e que não
patentearam os seus artigos científicos”.(710) Temos aqui sem dúvida
também um efeito monopolístico: temos de utilizar as ferramentas que são
mais usadas, sob pena de não conseguirmos comunicar. A renda (no
sentido de rent) consiste aqui essencialmente do efeito de dominação, não de concorrência. O exército jurídico da Microsoft é poderoso.
Tomando
em particular o caso das grandes corporações norte-americanas, Piketty
traz uma extensa análise dos salários de executivos nas empresas
americanas, da ordem por vezes de dezenas de milhões de dólares por ano,
mas apresentados como resultado de grandes capacidades e correspondendo
à produtividade. Naturalmente, não há tanta diferença de capacidades
que justifiquem tanta disparidade, mas o problema se agrava justamente
porque este tipo de salário, fenômeno bastante recente, resulta em
aplicações financeiras de grandes recursos, reforçando a dinâmica da
desigualdade. O problema central do fenômeno dos salários dos
“super-quadros”, como os define Piketty, é que a alta hierarquia define
os seus próprios salários, o que gera uma espiral descontrolada.(498)
A dimensão brasileira é interessante. Na listagem da Forbes apresenta-se os 15 bilionários do país.[7]
1) Marinho, Organizações Globo, US$ 28,9 bilhões
2) Safra, Banco Safra, US$ 20,1 bilhões
3) Ermírio de Moraes, Grupo Votorantim, US$ 15,4 bilhões
4) Moreira Salles, Itaú/Unibanco, US$ 12,4 bilhões
5) Camargo, Grupo Camargo Corrêa, US$ 8 bilhões
6) Villela, holding Itaúsa, US$ 5 bilhões
7) Maggi, Soja, US$ 4,9 bilhões
8) Aguiar, Bradesco, US$ 4,5 bilhões
9) Batista, JBS, US$ 4,3 bilhões
10) Odebrecht, Organização Odebrecht US$ 3,9 bilhões
11) Civita, Grupo Abril, US$ 3,3 bilhões
12) Setubal, Itaú, US$ 3,3 bilhões
13) Igel, Grupo Ultra, US$ 3,2 bilhões
14) Marcondes Penido, CCR, US$ 2,8 bilhões
15) Feffer, Grupo Suzano, US$ 2,3 bilhões
Veja-se
que se trata essencialmente de bancos (concessão pública, com carta
patente, para trabalhar com dinheiro do público); de meios de
comunicação (concessão pública de banda de espectro eletromagnético para
prestar serviço de comunicação à população); de construtoras (as
grandes, que trabalham com contratos públicos, nas condições que
conhecemos); e de exploração de recursos naturais (solo, água, minérios)
que são do país e que não precisaram produzir: o Imposto Territorial
Rural, por exemplo, praticamente não existe no Brasil. É o divórcio
crescente entre quem enriquece e quem contribui para o país. Piketty é
claro: “A experiência histórica indica ademais que desigualdades de
fortuna tão desmesuradas não têm grande coisa a ver com o espírito
empreendedor, e não têm nenhuma utilidade para o crescimento”. (944)
Vemos
aqui uma vez mais o interesse da base metodológica clara e explícita do
autor, ao separar os diversos níveis de renda e fontes de
enriquecimento: “Os grupos de 10% e de 1% são definidos separadamente
para a renda do trabalho de uma lado, para o rendimento de propriedade
do capital de outro, e finalmente para a renda total, que resulta do
trabalho e do capital, fazendo a síntese das duas dimensões e que define
portanto uma hierarquia social composta que resulta das duas
primeiras”.(400)
A
força da argumentação, da documentação e da análise trazidas pela
equipe de Piketty, com seus 15 anos de trabalho acumulado, é que casa
com outras análises que surgiram em diversos setores de pesquisa. O
livro, e o banco de dados online e aberto (com todos os dados primários
da pesquisa) que lhe dá suporte, surge num momento histórico em que
muitos agentes econômicos, sociais e políticos do planeta decidiram que
não dá mais para ignorar o elefante no meio da sala, que é o drama da
desigualdade. É uma ferramenta que surge no momento histórico certo. De
certa maneira, passamos a ter uma arquitetura conceitual muito sólida
que nos faz entender os novos desafios e alternativas.
6 A armadilha da dívida pública
O
processo tem lógica. No geral, o mundo avança com uma expansão em ritmo
aproximado de 1,5% a 2% ao ano, o que é perfeitamente respeitável,
graças em particular aos avanços tecnológicos, e também ao aumento da
população. A produtividade, no entanto, não tem se transformado em
avanço correspondente da remuneração do trabalho. A quase totalidade do
aumento de riqueza produzida vai para os 10% mais ricos, e em particular
para o 1% superior. Esta renda nas mãos dos mais ricos, a partir de um
certo nível, já não tem como se transformar em consumo, e passa a ser
aplicada em diversos produtos financeiros, cuja rentabilidade está na
ordem de 5% para aplicações médias, mas sobe para 10% para aplicações de
grande vulto com gestores financeiros profissionais.
Com
o rendimento sobre o capital ultrapassando fortemente os avanços da
própria economia, na realidade gera-se um processo cumulativo de
enriquecimento relativamente maior dos que já são mais ricos. O
desequilíbrio gerado não tem como ser revertido por simples mecanismos
de mercado, e na realidade já atingimos o grau de desequilíbrio de um
século atrás, quando os mais afortunados “viviam de rendas”, mas em
nível e volume superior. Esta é a dinâmica geral, em que os avanços
gerados por produtores se veem apropriados por rentistas. É o
“capitalismo rentista” que está justamente no centro do raciocínio.
A
dinâmica particular que vemos agora, e que aparece na parte final do
estudo do Piketty, é que os sistemas de gestão financeira que aplicam as
grandes fortunas desenvolveram um segundo mecanismo, que consiste em se
apropriar dos recursos públicos por meio da dívida pública. As pressões
da direita para ampliar o endividamento público se explica: “Em vez de
pagar os impostos para equilibrar os orçamentos públicos, os italianos –
ou pelos menos os que têm os meios – emprestaram dinheiro ao governo ao
comprar títulos do Tesouro ou ativos públicos, o que lhes permitiu
aumentar os seu patrimônio particular – sem por isto aumentar o
patrimônio nacional.” (291) O caso italiano aqui é apenas um exemplo, a
expansão da dívida pública se generalizou pelo planeta, ao mesmo tempo
que se reduziam os impostos sobre as fortunas e as operações
financeiras. Os Estados Unidos têm hoje uma dívida da ordem de 15
trilhões de dólares, para um PIB mundial da ordem de 80 trilhões.
Estas
operações, naturalmente, representam apenas transferências: “O nível do
capital nacional em primeira aproximação não mudou. Simplesmente, a sua
repartição entre capital público e privado inverteu-se
totalmente”.(294) Na realidade, “a dívida pública não constitui mais do
que um direito de uma parte do país (os que recebem os juros) sobre a
outra parte (os que pagam os impostos): portanto deve-se excluí-lo do
patrimônio nacional e incluí-lo somente no patrimônio privado”. (185)
Trata-se de rentismo público (rentes publiques), que tem um
impacto particularmente desastroso quando um país enfrenta dificuldades,
pois os aplicadores em títulos públicos forçam os juros para cima,
agravando a situação, como se viu na própria Itália, na Grécia, Espanha e
tantos outros países.
O
Estado, neste sentido, transformou-se em mais uma arena do aumento dos
patrimônios dos mais afortunados. “Existem duas formas principais de um
Estado financiar os seus gastos: pelo imposto, ou pela dívida. De
maneira geral, o imposto é uma solução infinitamente preferível, tanto
em termos de justiça como de eficácia.”(883) Esta opção pelo imposto é
explicitada: “”O imposto sobre o capital põe a carga nos que detêm
patrimônio elevado, enquanto as políticas de austeridade buscam em geral
poupá-los”. (894) Dadas as relações de força internacionais, a opção
geral que se viu, na Europa em particular, foi a da política de
austeridade, com restrições das aposentadorias e das políticas sociais,
atingindo o elo mais fraco tanto em termos econômicos como políticos.
O
caso brasileiro é emblemático, e neste sentido poderia muito bem
ilustrar as análises do pesquisador francês. A maior apropriação privada
de recursos públicos no Brasil, além de legal, criou a sua justificação
ética, a de estar combatendo a inflação: trata-se da taxa Selic. Como
muitos sabem, e a imensa maioria não sabe, a Selic é a taxa de juros que
o governo paga aos que aplicam dinheiro em títulos do governo, gerando a
dívida pública. A invenção da taxa Selic elevada também é uma inciativa
dos governos nos anos 1990. Tipicamente, passou-se a pagar, a partir de
1996, já com inflação baixa, entre 25 e 30% sobre a dívida pública. Os
intermediários financeiros passaram a dispor de um sistema formal e
oficial de acesso aos nossos impostos. Com isto o governo comprava, com
os nossos impostos, o apoio da poderosa classe de rentistas e dos
grandes bancos situados no país, inclusive dos grupos financeiros
transnacionais. Assim os governantes organizaram a transferência massiva
de recursos públicos para grupos financeiros privados.
Amir
Khair explicita a origem do mecanismo: “O Copom é que estabelece a
Selic. Foi fixada pela primeira vez em 1º de julho de 1996 em 25,3% ao
ano e permaneceu em patamar elevado passando pelo máximo de 45% em março
de 1999, para iniciar o regime de metas de inflação. Só foi ficar
abaixo de 15% a partir de julho de 2006, mas sempre em dois dígitos até
junho de 2009, quando devido à crise foi mantida entre 8,75% e 10,0%
durante um ano.”[8] Se considerarmos, para simplificar, uma taxa de 10%,
e um estoque de dívida de dois trilhões de reais, estaremos
transferindo para os grandes intermediários financeiros algo da ordem de
200 bilhões de reais por ano, pagos dos nossos impostos, e
frequentemente reaplicados para aumentar o estoque da dívida e o volume
de ganhos.
Gera-se
uma monumental transferência de recursos públicos para rentistas, que
além de nos custar muito dinheiro, desobriga os bancos de fazerem
investimentos produtivos que gerariam produto e emprego. É tão mais
simples aplicar nos títulos, liquidez total, risco zero. E realizar
investimentos produtivos, financiando por exemplo uma fábrica de
sapatos, envolve análise de projetos, seguimento, enfim, envolve
atividades que vão além de aplicações financeiras. É na realidade o que
os intermediários deveriam fazer: fomento, irrigar as atividades
econômicas, sobre tudo porque estão trabalhando com o dinheiro dos
outros. Tecnicamente, o que fazem ao tirar o dinheiro do circuito
econômico e transferi-lo para a área financeira, é a esterilização da
poupança.
No
nosso caso, a justificação política é que se trata, ao manter juros
elevados, de proteger a população da inflação. Neste ponto, o argumento
de Piketty coincide com o que Amir Khair e outros têm repetido: “A
inflação depende de múltiplas outras forças, e nomeadamente da
concorrência internacional sobre preços e salários”.(905) Mas para uma
população escaldada com inflações passadas, o argumento é poderoso,
ainda que falso. Com um massacre midiático impressionante, os juros
altos aparecem como bons (nos protegem da inflação), enquanto os
impostos aparecem como negativos (inchaço da máquina pública e
semelhantes. Os mais afortunados que deveriam pagar os seus impostos,
aplicam na dívida pública, e fazem render o que deveriam devolver à
sociedade.
As
análises que o livro nos traz do problema da dívida pública apontam
ainda um outro problema: o caos financeiros gerado. Chipre é parte da
União Europeia, e no entanto ninguém tinha informações precisas sobre o
tipo de, origem ou interesses dos detentores da sua dívida pública,
grupos de certa forma donos de parcelas do sistema público. Revelou-se
serem dominantemente oligarcas russos, que desarticularam completamente
as tentativas do país de equilibrar as suas contas. E tem mais: de ponta
a ponta do trabalho, Piketty nos traz exemplos da ausência geral de
transparência sobre os estoques e fluxos financeiros: “os países não
dispõem nem de transmissões automáticas de informações bancárias
internacionais nem de cadastro financeiro que lhes permitisse repartir
de forma transparente e eficaz as perdas e os esforços.”(908) O sistema
financeiro atua no planeta, os Estados atuam em espaços delimitados por
fronteiras nacionais. As próprias finanças públicas, como resultado, se
vêm jogadas na ciranda.
7 O imposto progressivo sobre o capital
Como
enfrentar o capitalismo patrimonial globalizado do século 21º? Esta é a
questão central colocada no estudo do Piketty. O desafio tende a
desanimar. O autor se refere, com coragem, à “utopia útil” que está
propondo. Ainda mais que é um realista, plenamente consciente “do grau
de má fé atingido pelas elites econômicas e financeiras na defesa dos
seus interesses, bem como por vezes pelos economistas, que ocupam
atualmente uma posição invejável na hierarquia americana de rendimentos,
e que têm frequentemente uma lamentável tendência a defender os seus
interesses particulares, sempre dissimulando-se por trás de uma
improvável defesa do interesse geral.” O congressista médio nos Estados
Unidos teria um patrimônio pessoal da ordem de 15 milhões de dólares,
frente ao patrimônio médio do adulto americano de 200 mil dólares. Não
vai ser fácil. (834) Vem-nos aqui à lembrança os dilemas de Lincoln ao
tentar fazer um congresso constituído por donos de escravos votar o fim
da escravidão.
A
visão mais ampla em termos propositivos está na linha de um imposto
progressivo sobre o capital acumulado. Já que os mecanismos de mercado,
neste caso, em vez de gerar equilíbrios, geram um processo cumulativo de
desigualdade, com uma espiral descontrolada de enriquecimento cada vez
menos vinculado à contribuição produtiva, uma intervenção institucional
para organizar a redistribuição torna-se indispensável. “A ferramenta
ideal, escreve o autor, seria um imposto mundial e progressivo sobre o
capital, acompanhado de uma muito grande transparência financeira
internacional. Uma instituição deste tipo permitiria evitar uma espiral
de desigualdade sem fim e regular de forma eficaz a inquietante dinâmica
da concentração mundial dos patrimônios.”(835)
Não
se trata apenas de frear uma dinâmica descontrolada. Trata-se também de
recompor e ampliar as políticas sociais, para as quais a ação pública é
essencial. Piketty tem total clareza do peso essencial que tiveram as
políticas sociais na fase equilibrada de desenvolvimento do pós-guerra. O
Estado não é “gasto”, é prestação “de serviços públicos que beneficiam
gratuitamente as famílias, em particular os serviços de educação e de
saúde financiados diretamente pelo poder público. Estas ‘transferências in natura’
têm tanto valor quanto as transferências monetárias contabilizadas na
renda disponível: evitam que as pessoas interessadas tenham de
desembolsar somas comparáveis – ou por vezes nitidamente mais elevadas –
junto a produtores privados de serviços de educação e de saúde”. Tem
também clareza dos aportes de Amartya Sen, de que a políticas sociais,
ainda recentemente classificados como gastos, constituem investimentos
nas pessoas, com impactos produtivos generalizados.[9]
Piketty
é antes de tudo um historiador da economia. A sua análise do longo
prazo permite, e isto se sente em toda a extensão do livro, um recuo
muito saudável, que permite reduzir as simplificações e reações
ideológicas. Ver descritas as declarações indignadas dos ricos, há um
século atrás, quando se iniciou a cobrança do próprio imposto de renda,
com alguns pontos percentuais apenas sobre pessoas de renda elevada, nos
dá inclusive a dimensão de que certas coisas que pareciam absolutamente
impossíveis hoje já fazem parte do cotidiano. A expansão da carga
tributária na Europa e nos Estados Unidos é que permitiu os avanços
civilizatórios: “O desenvolvimento do Estado Fiscal durante o século
passado corresponde no essencial à constituição de um Estado social.”
(765)
Piketty
mostra inclusive que as diversas formas de renda mínima, com grande
impacto social, representam custos muito limitados: Os ‘mínimos
sociais’, como os denomina, “correspondem a menos de 1% da renda
nacional, quase insignificantes na escala da totalidade dos gastos
públicos.” Aqui aflora o humanista, e a consciência da guerra
ideológica: “Trata-se, no entanto, de gastos frequentemente contestados
com a maior violência: suspeita-se os beneficiários de escolherem de se
instalar eternamente na assistência, ainda que a taxa de demanda por
estes ‘mínimos’ seja geralmente muito mais fraca do que a das outras
prestações, o que reflete o fato que os efeitos de estigma (e
frequentemente a complexidade dos dispositivos) tenda frequentemente a
dissuadir os que a elas teriam direito.” Nos Estados Unidos, o estigma
casa com o racismo pouco velado: “Observa-se que este tipo de
questionamento dos mínimos sociais tanto nos Estados Unidos (onde a mãe
solteira, negra e ociosa joga o papel de rechaço absoluto para os que
desprezam o magro Welfare State americano) quanto na Europa.” O
autor denuncia o “Estado carcerário” que substitui por vezes o Estado
provedor: 5% dos homens negros nos Estados Unidos estão nas
prisões.(765)
Há
portanto grandes ganhos de produtividade social através da reorientação
dos recursos e da taxação do seu uso especulativo e improdutivo. Um
outro vetor importante do imposto sobre as fortunas é a transparência
criada. Hoje, com as pesquisas do Tax Justice Network e outras
fontes sabemos que entre um terço e metade do PIB mundial se esconde em
paraísos fiscais, gerando uma desorganização planetária ao deformar os
tributos pagos nos países de origem, abrindo inclusive as portas para
tráfico de armas e de drogas, além evidentemente da própria evasão dos
impostos por parte de quem mais deveria pagá-los.[10]
Daí
o caminho das propostas do livro, no sentido de se criar um imposto
progressivo mas muito baixo, para começar a organizar o gigantesco caos
planetário criado. Esta proposta, na realidade, se aproxima aqui da Taxa
Tobin, que seria uma taxação de transações financeiras internacionais,
gerando recursos sem dúvida, mas antes de tudo permitindo o registro dos
fluxos. Conforme vimos, um exemplo de imposto possível seria de isenção
ou 0,1% abaixo de 1 milhão de euros, de 1% entre 1 e 5 milhões de
euros, e de 2% entre 5 e 10 milhões e assim por diante.(943)
Mas
o argumento mais forte é que a imposição deste capital parado, que
rende sem que as pessoas precisem organizar a sua utilização produtiva,
rendendo por aplicações especulativas e frequentemente por simples
transferência dos nossos impostos (como é o caso da nossa taxa Selic),
tanto permitiria reduzir a dívida pública, como financiar mais políticas
sociais, e bancar investimentos tecnológicos e produtivos em geral. O
imposto sobre o capital já existe de forma incipiente em diversos
países, trata-se de dinamizar uma política que se tornou hoje
indispensável no nível planetário.
Utópico?
Sem dúvida. Mas já foram utópicos o imposto de renda (“os ricos nunca
aceitariam”), a renda mínima, o direito de greve e tantas outras
impossibilidades até que as ideias encontraram âncoras na mente das
pessoas.
8 Uma utopia útil?
Piketty
tem uma posição clara contra os excessos da desigualdade, oferece bases
empíricas extremamente sólidas para se entender quão nocivo se tornou
para a economia e para a política o reinado dos rentistas, sem ceder a
ódios nem preconceitos. No decorrer de todo o texto temos o sentimento
de estarmos acompanhando um pesquisador que tem cabeça aberta, e
profunda compreensão dos mecanismos econômicos, inclusive da hipocrisia
com a qual elites justificam as suas fortunas. É claramente um
humanista. Mas classificar a sua obra além disto resiste às nossas
divisões ideológicas tradicionais. Claramente, ele quer que o sistema
funcione, e demostra cabalmente que como está não funciona.
Por
outro lado, ao reunir e organizar um volume absolutamente
impressionante de dados, com metodologia muito transparente, inclusive
com inúmeras advertências quando os números são pouco seguros, traz o
que é a meu ver a ferramenta mais útil que surge nas últimas décadas,
para compreender as dinâmicas econômicas, sociais e políticas atuais. É
realmente uma obra prima. E como é muito bem escrito, junta-se o útil e o
agradável. São 15 anos de trabalho reunidos num volume que se lê em um
par de semanas, e se lê porque gera o prazer de entender melhor os
nossos dilemas mais significativos.
Em
termos ideológicos, Piketty claramente foge às classificações. Sabe
perfeitamente que o mundo econômico adoraria declará-lo marxista, para
não precisar enfrentar os seus argumentos. O Financial Times se lançou
em contestar os números, e se deu mal: o trabalho é sólido. Krugman,
Stiglitz, até o Economist tão conservador se dizem impressionados. E os
que hesitam a fazer a lição de casa e ler o livro, podem também
descartá-lo como reformista. Eu francamente, fiz a lição de casa. E
conheço suficientemente a minha área para saber quando encontro boa
ciência.
A
passagem que talvez melhor situe o autor é onde se refere a “uma utopia
útil”. Frente à concentração desmedida e cumulativa da riqueza em
poucas mãos, e ao caos que progressivamente se instala, ele considera
que a desigualdade se tornou o desafio principal, e o imposto
progressivo sobre o capital acumulado a principal ferramenta. Frente aos
diversos protecionismos, nacionalismos e controles que alguns países
adotam, ele vê este imposto como uma alternativa melhor: “Tais
ferramentas representam em verdade substitutos bem pouco satisfatórios à
regulação ideal que constitui o imposto mundial sobe o capital, que tem
o mérito de preservar a abertura econômica e a mundialização,
permitindo ao mesmo tempo regulá-la eficazmente e repartir os benefícios
de maneira justa tanto dentro dos países como entre eles. Muitos
rejeitarão o imposto sobre o capital como uma ilusão perigosa, da mesma
forma como o imposto sobre a renda era rejeitado há um pouco mais de um
século. No entanto, olhando bem, esta solução é mito menos perigosa do
que as opções alternativas.”(837)
Ignacy
Sachs se declara um adepto da economia mista, e eu mesmo sigo muito
esta linha. Curioso inclusive ler o recente documento oficial que traça a
orientação atual da China: “O sistema econômico da China se apoia na
propriedade pública servindo como sua estrutura principal mas permitindo
o desenvolvimento de todos os tipos de propriedade. Tanto a propriedade
pública como não pública são componentes-chave da economia socialista
de mercado”. Trata-se aqui de uma “economia de propriedade
diversificada” (diversified ownership economy).[11] Ultrapassando as grandes simplificações ideológicas do século passado, buscamos hoje articulações inovadoras.
A
O “cor” política de Piketty parece se refletir nesta passagem da parte
final do livro: “O Estado-Nação permanece sendo um nível pertinente para
modernizar profundamente numerosas políticas sociais e fiscais, e
também numa certa medida para desenvolver novas formas de governança e
de propriedade partilhada, intermediária entre a propriedade pública e
privada, que é um dos grandes desafios do futuro. Mas somente a
integração política regional permite considerar uma regulação eficaz do
capitalismo patrimonial globalizado do século que se inicia”.(945)
Aqui
se caracteriza uma fase do capitalismo (patrimonial globalizado), a
expressão das diferentes escalas territoriais (o Estado-Nação e a
política regional), e a articulação de diversas formas de propriedade,
em particular a “propriedade partilhada”. Isto a meu ver caracteriza
mais os desafios do que propriamente uma tomada de posição, mas também
nos traz toda a complexidade da transição atual, em que a política
nacional não consegue regular uma economia que se globalizou, em que o
poder financeiro passou a dominar não só a economia produtiva mas os
próprios mecanismos democráticos, em que se misturam formas
diversificadas de propriedade (pública, privada, associativa), de gestão
(concessões, partilhas, cogestão), de controle (competência local,
nacional, regional) e de marco jurídico (do local até o global). A
propriedade já não é suficiente para definir o tipo de animal econômico
que temos pela frente. Podemos ter um hospital de propriedade pública,
gerido em regime de concessão a uma cooperativa de médicos, sob controle
de um conselho municipal de saúde, no quadro de um marco regulatório
estadual ou federal. Ou outras combinações. É a era da sociedade
complexa. No entanto, o “norte” permanece: não podemos continuar a
destruir o planeta em proveito de uma minoria que desarticula inclusive
os processos produtivos.
Em
termos teóricos, eu colocaria Piketty na linha relativamente mais
próxima, que é a da economia institucional. Ele não busca derrubar o
capitalismo, busca devolver ao nível político, que é onde podemos ter
uma certa democracia, um papel regulador sobre o conjunto do processo.
Eu tenho trabalhado isto na linha da “Democracia Econômica”, ou
seja, na visão de que a própria economia tem de ser democratizada, com
novos mecanismos de regulação, transparência, participação, controle
democrático. Com Ignacy Sachs e Carlos Lopes, no texto Crises e Oportunidades em Tempos de Mudança, tentamos delinear eixos propositivos nesta linha.[12]
O
trabalho do Piketty e de sua equipe não é uma proposta revolucionária,
mas ajudou imensamente a tornar o meio do campo mais claro. Nos dá
instrumentos para pensarmos as ferramentas, as alternativas. Para as
novas construções, a sua proposta central, que é de um imposto
progressivo global sobre o capital, torna-se um ponto de referência
necessário. Acoplada a esta proposta, e explicitada em todo o livro,
está a necessidade de gerar os sistemas informativos que permitam gerar
luz nesta caixa preta, coisa que pode ser começada em nível nacional,
mas que hoje exige um sistema mundial de informação e controle de
fluxos. Fica, naturalmente, a grande pergunta: o marco
político-institucional presente comporta este tipo de modestos avanços?
Ladislau
Dowbor é professor de economia da PUC de São Paulo, consultor de
diversas agências das Nações Unidas, e autor de numerosos estudos
disponíveis em http://dowb.or.org. Contato ldowbor@gmail.com
[1]
Thomas Piketty – Le capital au XXIº siècle – Paris, Seuil, 2013 (edição
em inglês e em espanhol disponíveis online, em português prevista para
novembro)
[4]
Piketty aponta “o interesse em se representar assim a evolução
histórica da relação capital/renda e de se explorar desta maneira as
contas nacionais em termos de estoque e de fluxo”. Thomas Piketty, Le
Capital au XXIº Siècle, p. 305.
[9]
Uma sistematização particularmente bem apresentada destas novas
tendências pode ser encontrada no documento da CEPAL, das Nações
Unidas, La Hora de la Igualdad, com versão abreviada em português.